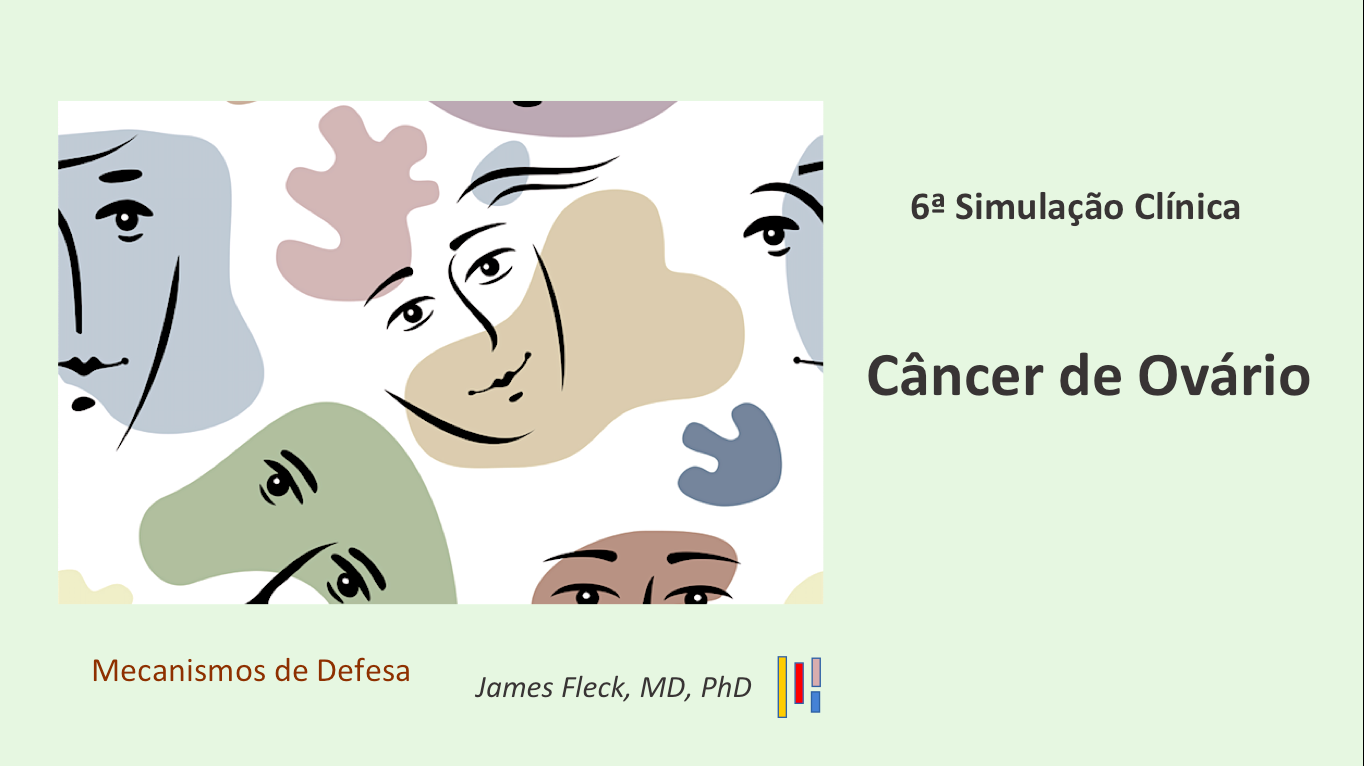
A Mãe Devoradora
Assistência a uma paciente narcisista que desenvolve a negação como mecanismo de defesa ao ser diagnosticada com câncer de ovário
Mensagem ao leitor
O melhor da humanidade está naquelas pessoas que enfrentaram o desconhecido, a luta, o sofrimento e a perda,
mas que apesar disto encontraram seu caminho de volta.
Essas pessoas têm uma valorização, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as inundam com
compaixão, gentileza, e uma profundo respeito pelo amor.
Estas pessoas não acontecem por acaso.
Elisabeth Kübler-Ross, M.D.
(1926 – 2004)
Capítulo 1 | Os mecanismos de defesa
Durante muito tempo o diagnóstico do câncer esteve associado com a ideia de morte. Quando iniciei minha formação em medicina há mais de quarenta anos, a especialidade de oncologia clínica estava recém começando. A informação pública e os métodos de detecção precoce eram precários e frequentemente o câncer era diagnosticado em fases avançadas e muitas vezes como uma doença terminal. A doença costumava ser vista, predominantemente, sob a ótica locorregional. Se o tumor estivesse restrito ao órgão e pudesse ser retirado com ampla margem de segurança através de uma cirurgia radical, haveria chance de cura. A irressecabilidade conduzia a um tratamento, frequentemente com intenção paliativa, feito com radioterapia ou com drogas muito tóxicas que compunham o rudimentar arsenal terapêutico da quimioterapia. Os anestésicos tinham um grau de segurança menor e os cuidados de tratamento intensivo pós-operatórios não dispunham da monitoração, do requinte tecnológico e do suporte medicamentoso hoje disponíveis.
A associação do câncer com a morte interferira na relação médico-paciente.
Havia, na época, uma tendência a lidar com o emocional dos pacientes com câncer, usando a mesma abordagem psicológica da doença terminal. A identificação com a morte era tão marcante que as cinco fases do luto, descritas no livro “Sobre a Morte e o Morrer” da autora suíça Elisabeth Kübler-Ross, costumavam ser usadas como modelo assistencial para os pacientes com câncer.
Estas fases traduziam a reação emocional dos pacientes terminais no processo de conscientização da morte.
O paciente terminal passaria por estágios, não necessariamente compulsórios ou sequenciais, que poderiam incluir mecanismos de defesa como negação, agressão, barganha, depressão e aceitação.
A despeito do trabalho original da Dra. Kübler-Ross ser focado em assistência aos pacientes terminais, seus conceitos foram progressivamente sendo ampliados para todas as situações de perda, incluindo o diagnóstico do câncer.
A dificuldade estava no entendimento da perda.
Era necessário dissociar a perda ocorrida por ocasião do diagnóstico do câncer de uma sentença de morte.
Com o câncer a perda seria física, emocional e social.
O paciente passaria pelos mesmos cinco estágios do “luto” descritos no trabalho da Dra. Kübler-Ross. Porem, o foco de enfrentamento não seria uma preparação para morrer, mas uma busca de resgate à vida.
A figura 1 descreve os cinco estágios da perda:
O progressivo avanço tecnológico da medicina foi melhorando a acuidade dos métodos diagnósticos e o índice terapêutico das intervenções. Consequentemente, o câncer passou a ser identificado mais precocemente e os tratamentos tornaram-se mais eficazes.
Um exemplo de impacto foi o uso da mamografia como método de screening para câncer de mama em mulheres com mais de quarenta anos, o que, isoladamente, contribuiu para uma redução de 39% no risco de morte. Da mesma forma, os métodos de prevenção avançaram, significativamente, para outros tipos de tumores frequentes como o câncer de próstata, colorretal e colo uterino. Ocorreu redução na mortalidade cirúrgica devido ao surgimento de drogas anestésicas mais seguras e novos recursos de cuidados intensivos pós-operatórios. Surgiram novas técnicas de radioterapia com feixe de elétrons e com softwares que permitiram maior precisão na definição dos campos a serem tratados, reduzindo a irradiação indesejável aos tecidos normais presentes na vizinhança do tumor. Surgiram novas drogas, mais eficientes e com menor toxicidade. Abriu-se o universo dos tratamentos adjuvantes e neoadjuvantes em que tanto a quimioterapia, como a radioterapia foram precocemente associadas ao tratamento cirúrgico, proporcionando intervenções menos mutiladoras e ampliando as possibilidades curativas8.
Hoje, em centros especializados de alta qualificação, pode-se estimar um índice geral de curabilidade do câncer na faixa de 60 a 65%.
Foram avanços sequenciais e consistentes, que conduziram a uma mudança na ótica de enfrentamento da doença, permitindo um diálogo mais objetivo e direto com o paciente.
Ele continuaria tendo que enfrentar a perda, provocada pelo diagnóstico de uma doença que iria, pelo menos temporariamente, determinar uma mudança em seu estilo de vida.
Passaria pelas cinco fases da perda, mas o foco da orientação estaria voltado para a vida.
Capítulo 2 | Entendendo a dinâmica familiar
A mudança comportamental começara a acontecer, porém fora lenta.
Lembro de vários encontros científicos interdisciplinares feitos com o objetivo de avaliar a melhor forma de comunicar ao paciente o diagnóstico do câncer.
Na minha experiência, todos os pacientes antecipavam seu diagnóstico. A forma de expressão clínica, os exames solicitados e a justificativa para a participação de múltiplos profissionais, representavam fortes fatores indicativos de que algo mais grave estava acontecendo.
Eu sempre defendera uma abordagem direta com o paciente, desde o primeiro encontro. No entanto, havia profissionais que, escudando-se na fase de negação, expressa momentaneamente pelo paciente, optavam por não lhe comunicar a doença. Promoviam uma reunião secreta com os familiares e descreviam detalhadamente a eles tanto os dados diagnósticos como prognósticos do câncer. Involuntariamente, excluíam o paciente do processo decisório e criavam uma situação teatral trágica.
Não era possível desenvolver cumplicidade na relação com o paciente, se o médico estava ocultando-lhe a verdade. Da mesma forma, a família não se sentia com condições afetivas ou técnicas de substituir o médico nesta função.
Tanto o paciente como seus familiares acabavam desassistidos.
Sempre tive a consciência de que o manejo emocional dos pacientes com câncer era uma arte a ser exercitada pela imersão.
No exercício assistencial, o médico não poderia demonstrar insegurança técnica ou emocional e jamais assumir um comportamento autodefensivo.
Ele precisaria expor-se ao contato direto com o paciente de forma espontânea e isenta. A primeira habilidade consistia em ouvir sem censura. O tempo da informação seria percebido pelo médico, no ritmo ditado pela leitura da condição afetiva do paciente.
Sempre fora um exercício de sensibilidade.
O médico teria que fornecer a informação certa no momento certo, não podendo transferir esta responsabilidade. Alguns pacientes passavam, sequencialmente, por todas as cinco fases da perda, outros as expressavam de forma aleatória. Caberia ao médico identificar a fase em que o paciente se encontrava e dosar o nível de informação, conforme o mecanismo de defesa utilizado. Como já era antecipado, o paciente faria um movimento emocional migratório e o médico precisaria exercitar sua adaptabilidade a cada nova situação.
Na fase de negação, o cuidado mais importante seria o de reforçar a necessidade de acompanhamento, evitando que o paciente ficasse desassistido. No câncer, ela não costumava ser muito duradoura, pois as evidências produzidas pelos exames impediam que o paciente permanecesse indiferente aos resultados. Não costumava ser uma fase marcada por muitos questionamentos, mas era necessário que o médico demonstrasse seu interesse para atender todas as necessidades do paciente, mesmo que periféricas e destituídas de objetividade. A habilidade médica essencial para o adequado enfrentamento da fase de negação seria a disponibilidade.
A fase da agressão estava normalmente associada com a identificação da culpa. Cabia ao médico explicar que as doenças eram acontecimentos frequentes na vida das pessoas e que precisariam ser enfrentadas com equilíbrio e determinação. O médico teria que mostrar-se seguro na condução do enfrentamento e transmitir confiança ao paciente. A não identificação da culpa fazia com que a agressão fosse mal direcionada, recaindo muitas vezes sobre familiares e até mesmo sobre o próprio médico. Novamente, a neutralidade emocional tinha que ser exercida, absorvendo o comportamento agressivo, com uma atitude compreensiva e empática. Na fase de agressão o paciente já intuíra o diagnóstico, mas tentava dissimular o entendimento com uma atitude de revolta.
Na barganha o paciente já se conscientizara de seu estado de doença. No entanto, tinha a tendência a minimizar o problema, ou buscar soluções rápidas. Haveria o risco de submeter-se a propostas mágicas, comprar tratamentos miraculosos ou acreditar em charlatões. Todavia, era também o momento em que começavam os questionamentos mais específicos, o que dava ao médico a oportunidade de dialogar sobre o diagnóstico e sobre as possibilidades de intervenções. Costumava ser cobrada a consistência nas informações técnicas, que o paciente testava pela repetição nos questionamentos. Minha impressão era de que a informação precisava ser reafirmada várias vezes e sempre com o mesmo formato. Parecia uma espécie de condicionamento cognitivo, em que a introjeção do conhecimento era devida a reafirmação dos fatos. O manejo consistia em um exercício de paciência, coerência e disponibilidade.
Na fase de depressão, a doença já fora conscientizada, porem de uma forma ainda traumática revelada pela tristeza, desesperança, medo e distanciamento afetivo. Tratava-se de uma fase que exigia muita dedicação profissional, pois além de apoio emocional continuado, o médico precisava definir a necessidade de medicamentos antidepressivos ou eventualmente interferência psiquiátrica. Na minha experiência, a participação da psiquiatria ou de drogas restringiam-se a pacientes com história de doença emocional antecedente. Pacientes previamente hígidos eram manejados apenas com cuidados assistenciais de base e orientação. Passado algum tempo esta fase também seria superada.
A fase de aceitação consistia na busca ativa de melhor entendimento da doença, visando o desenvolvimento de habilidades para enfrentá-la. A relação médico-paciente estruturada sobre uma base de confiabilidade mútua evoluía para um diálogo de racionalização dos fatos. Havia uma comunicação clara, cujo nível de informação dependia, essencialmente, das necessidades do paciente. Alguns pacientes contentavam-se com uma informação sucinta sobre o diagnóstico e uma orientação geral sobre o tipo e duração do tratamento. Outros, com temperamento inquisitivo, buscavam maior riqueza de detalhes e questionavam o racional, sustentação bibliográfica, toxicidade e prognóstico.
Um outro contexto era o atendimento da família.
Não poderia ser negligenciado. O sentimento dominante costumava ser o da impotência. O câncer sempre fora uma doença estigmatizada por sua agressividade e comportamento imprevisível. O diagnóstico gerava insegurança nos familiares, pois antecipavam a necessidade de lidar com o dano físico e emocional, que a doença iria impor ao paciente.
Nunca existiu uma universidade que preparasse as pessoas para a vida.
Elas simplesmente aprendiam com a exposição as alegrias e tristezas, conquistas e perdas, felicidade e sofrimento. O enfrentamento da adversidade, nunca fora regido por uma fórmula simples e única. Embora houvesse alguns parâmetros gerais estereotipados, a especificidade dos detalhes dominava o cenário.
No atendimento do paciente com câncer, sempre fora fundamental o envolvimento da família.
Eu costumava dispensar tempo para ambos, pois tinha consciência de que tanto o paciente como seus familiares estariam sofrendo e necessitando de atenção.
Além disso, a assistência teria que ser simultânea.
Embora a prioridade fosse do paciente, era preciso entender que ele estava inserido em uma dinâmica emocional familiar, que o iria influenciar.
Muitos dos mecanismos de defesa mobilizados pelos pacientes, também costumavam ser observados em seus familiares.
Mas, eram dois universos paralelos e não, necessariamente, em perfeita sintonia.
Eu costumava usar uma estratégia de desmistificação do problema.
Já no primeiro encontro pedia para conversar diretamente com o paciente e facultava aos familiares o acompanhamento integral da consulta.
Pedia que o paciente relatasse sua versão da história. Ouvia com atenção e respeito. Procurava não interromper, mesmo quando houvesse alguma imprecisão ou falha no sequenciamento lógico do raciocínio. Da mesma forma, também solicitava que a família não interferisse no relato espontâneo do paciente, mesmo quando suscitasse diferenças nas versões.
Informava aos familiares que na sequência eu também iria ouvi-los.
Ambos teriam a oportunidade de expressar seus sentimentos e eu estaria ali para escutá-los.
O primeiro encontro tinha como objetivo principal controlar a ansiedade.
Era um processo catártico, no qual o médico traçava o perfil emocional do paciente e da família.
A postura passiva do médico demonstrava a inexistência de censuras e sua disposição compreensiva.
Por ocasião do exame físico, o paciente definia se desejava ficar sozinho ou acompanhado por familiares. A sala de exames, apesar de ser única, tinha uma pequena divisória parcial que proporcionava a adequada privacidade ao paciente. Eu fazia um exame completo, sempre antecipando e explicando, diretamente ao paciente, no que consistia cada etapa e qual a sua finalidade.
Mesmo não sendo o mais aconselhável, eu costumava permanecer dialogando com o paciente durante o exame, descrevendo, superficialmente, os achados com serenidade. Estas medidas conduziam a uma condição de confiabilidade e descontração, na mesma mediada em que favoreciam a desmistificação da doença.
Propositadamente, não dialogava com os familiares durante o exame, apesar de eles ouvirem a conversa. Aproveitava a privacidade parcial para permitir que o paciente pudesse se desprender da vigilância familiar e desenvolvesse mais autoconfiança e independência.
Respeitava todos os mecanismos de defesa, pois os relatos eram restritos aos fatos e não a interpretação dos mesmos. Isto seria feito em outro momento, quando a condição psicológica do paciente e da família sinalizasse de maneira favorável.
O câncer sempre fora uma doença de instalação crônica, porem seu diagnóstico era agudo. Quando ocorria despertava no paciente e familiares uma atitude emergencial. Tudo precisava ser resolvido instantaneamente, o que conduzia a algumas decisões precipitadas, motivadas mais pela emoção do que pela razão. O médico teria que assumir a liderança na condução do enfrentamento, o que implicava em plantar uma relação de confiança mútua. Por isso, os primeiros encontros costumavam ser voltados para a estabilização afetiva do paciente e da família.
Era importante mostrar serenidade.
Raros tipos de câncer apresentavam-se como situações de urgência, onde as decisões teriam que ser tomadas de imediato. Na maior parte das vezes, havia o tempo necessário para uma avaliação criteriosa, tanto do diagnóstico como da melhor alternativa de tratamento.
Eu costumava citar que o câncer do intestino grosso, comumente, precisava mais do que cinco anos para desenvolver-se como uma doença maligna invasiva. Da mesma forma, outras formas de tumores malignos frequentes também tinham um tempo de latência prolongado.
Não era uma doença infectocontagiosa, com instalação e evolução rápida. O risco de contágio, restringia-se a ansiedade. Precisava ser agudamente controlada, antes que escalonasse para proporções que obscurecessem o livre arbítrio.
Minha estratégia para atingir o melhor resultado envolvia a abordagem sequencial. Eu tinha consciência de que nem tudo ficaria esclarecido no primeiro encontro. Ele seria usado para dominar a ansiedade, fornecer informações preliminares sobre a doença e estabelecer um plano geral de atendimento. A informação seria ditada pelo ritmo do paciente, respeitando os mecanismos de defesa mobilizados.
Paralelamente, a segurança profissional e a estabilidade emocional do médico precisariam permear na relação com o paciente e familiares, permitindo dissociar o tempo necessário para o manejo emocional das medidas práticas assistenciais a serem encaminhadas.
A abordagem sequencial presumia a existência de tantos encontros quantos fossem necessários para o adequado equacionamento do problema.
Consistia em um atendimento customizado.
Alguns casos progrediam rapidamente pelas cinco fases da perda, às vezes até suprimindo algumas. Outros necessitavam maior elaboração ficando presos por mais tempo em uma fase de negação ou depressão.
As condutas seguiam seu ritmo normal, independentemente do manejo emocional do paciente. Nenhum exame ou indicação de tratamento pressupunha que o paciente já tivesse, obrigatoriamente, atingido a fase de aceitação.
Este tipo de dissociação, consistia na prática sustentada pelo afeto, pois costumava estar baseada, apenas, na relação de confiança.
Alguns pacientes nunca migravam para outra forma de prática assistencial, outros, evoluíam para uma atitude racional, marcada pelo questionamento das condutas e resultados. Com o tempo a maior parte dos pacientes chegavam a fase de aceitação, muitos com o tratamento já em curso. Raros casos ficavam, definitivamente, presos a um mecanismo de defesa.
Capítulo 3 | A interferência familiar
Era uma tarde de primavera.
Em minha agenda havia uma solicitação de entrevista com uma família.
Minha secretária avisou-me que eram os filhos de uma médica.
Era algo inusitado, pois eu não sabia o assunto e, portanto, não tinha ideia se envolvia doença ou algum outro tipo de encaminhamento.
Eles também não tinham revelado o nome da mãe.
Eu os recebi em uma sala de consulta.
Tratava-se de um homem e de uma mulher na faixa dos 30 aos 35 anos. Estavam nitidamente ansiosos, pois entraram na sala argumentando mutuamente, em um tom levemente agressivo. O diálogo sugeria algum tipo um problema de difícil encaminhamento, relacionado com a mãe.
Assumindo um papel mediador, pedi que se acalmassem para que pudéssemos conversar. Houve um silêncio marcado por um sentimento de contrariedade e disputa entre aqueles dois irmãos.
Perguntei seus nomes.
Ela tomou a iniciativa e fitando-me nos olhos respondeu que se chamavam Ana e Luiz. Ele estava nitidamente alterado, olhava fixo através de uma janela para uma alameda de jacarandás.
Eram árvores de tronco escuro e folhas decíduas, que caiam no inverno, sendo substituídas na primavera por uma extraordinária florescência de cor azul arroxeada. Uma vez por ano eu convivia com aquele cenário, que na minha ótica era uma verdadeira inspiração para a vida.
Buscando aliviar a tensão, comentei com Luiz sobre a beleza dos jacarandás.
Luiz, desculpou-se pela desatenção momentânea, mas disse que estava revoltado contra a natureza. Afirmou categoricamente que em poucas semanas todas aquelas flores iriam desaparecer e quando isso ocorresse sua mãe já teria morrido.
Ana, irritou-se com aquela afirmação de agressão indireta e explicou que a ideia de morte não saia da cabeça do irmão, mas que compartilhava da insegurança dele, pois sua mãe estava com câncer.
Revelaram o nome da mãe.
Tratava-se de Clara, uma médica de 65 anos, muito reconhecida em sua especialidade, mas também por seu temperamento autoritário, dominante e rígido.
Eu não tivera muito contato prévio com Clara, mas a respeitava profissionalmente.
Perguntei a eles, se a mãe tinha conhecimento daquela consulta.
Responderam que não.
Perguntei como souberam do diagnóstico da mãe.
Luiz disse que encontrara, no quarto da mãe, uma tomografia do abdômen, que ela havia feito há duas semanas. Abrira o exame e lera o resultado.
Havia um grande tumor ocupando toda a pelve, com a impressão radiológica de ser um câncer de ovário.
Ele mostrara o exame para Ana, que após ler o resultado, optou por retornar o exame para o mesmo local onde Luiz o havia encontrado.
Buscaram informação na internet e concluíram que era uma doença grave, mas não sabiam como falar com a mãe, pois ela não aceitaria a interferência.
Eu, ainda, não me sentia a vontade para opinar e decidira avaliar um pouco melhor a dinâmica familiar.
Deixei que desabafassem.
Havia uma espécie de bloqueio na comunicação com a mãe, provocado por uma atitude de submissão filial que os atemorizava.
A visão de gravidade da doença também parecia magnificada.
Luiz expressava insegurança, agressão e um sentimento de culpa subjacente. Havia conflitos que começavam a ser exteriorizados a partir da situação de crise.
Ambos os filhos tinham um comportamento, desproporcionalmente, imaturo para a idade, o que me passava a impressão de terem sido superprotegidos ou infantilizados pelos pais.
Eram solteiros e não trabalhavam.
Luiz estava terminando um curso de direito e Ana intitulava-se artista plástica.
Ambos moravam com Clara e dependiam dela financeiramente.
Os pais tinham passado por uma separação litigiosa há mais de vinte anos e Clara ficara com a guarda dos filhos. O pai morava no exterior e já tinha uma outra família, mantendo contato eventual. Não contribuía para a economia familiar, mas atendia as necessidades expressas pelos filhos, sempre que solicitado.
Ana apesar de ser apenas dois anos mais velha do que Luiz, mostrava um comportamento dominador sobre o irmão, tentando direcioná-lo nas atitudes e sentimentos.
Ele assumia um comportamento rebelde, mas acabava, mesmo contrariado, aceitando a orientação da irmã.
Ana afirmou que ambos não estavam prontos para perder a mãe e que eu teria a obrigação de salva-la.
Havia um tom desesperado e arrogante em sua expressão, que soava como um ato de comando.
Era uma situação incomum.
Duas pessoas com temperamento instável, antecipando uma situação de perda que não estavam preparados para enfrentar. Ambos tinham violado a privacidade materna, deparando-se com uma realidade adversa. Eram imaturos e estavam sofrendo. Luiz encontrava-se em uma fase agressiva da perda antecipada e Ana desenvolvia uma nítida atitude de barganha.
Eram mecanismos de defesa que curiosamente eu começava a identificar nos familiares, mesmo antes de conhecer a paciente, os exames ou até a veracidade daquela história.
Mas, por alguma razão eles tinham me escolhido como médico ou como conselheiro e ao recebê-los eu havia, tacitamente, assumido a responsabilidade de ajudá-los.
Apesar de já ter transcorrido quase uma hora de consulta, os ânimos continuavam tensos e o processo de catarse daqueles irmãos era redundante. Agrediam-se mutuamente e a insegurança dominava a relação.
Tomei a iniciativa de interferir.
Expliquei que a atividade médica exigia a presença do paciente.
Orientei que conversassem com a mãe, relatando o encontro ocasional do exame e a iniciativa de terem buscado apoio em meu consultório. Disse que o primeiro passo para aliviarem o sofrimento seria o de romper a barreira de comunicação com a mãe, até porque nada poderia ser feito, sem o seu consentimento.
Era um ato de coragem, pois envolvia confessarem uma invasão sobre sua privacidade, cuja reação seria imprevisível.
No entanto, na minha opinião, este seria o único encaminhamento possível.
Lamentei que a situação estivesse ocorrendo às avessas, mas que poderíamos tentar reorganizar o processo.
Achei que deveria avançar um pouco mais.
Eu estava tocado pela imaturidade daquelas duas pessoas e recomendei que repensassem a forma como estavam posicionando seus afetos.
Nenhum dos dois era responsável pela doença da mãe.
Teriam que reavaliar seu comportamento egoísta.
Estavam focados mais nas consequências pessoais, que a perda os estava impondo, do que na busca de uma forma adequada de dar suporte emocional para a mãe.
Ouviram calados.
Pela primeira vez durante toda aquela entrevista, sentiu-se uma condição de mais serenidade. Pareceu-me ter tocado em um ponto que eles desejavam, consciente ou inconscientemente, que acontecesse.
Pararam, subitamente, de discutir e concordaram em juntar esforços para buscar o diálogo com a mãe.
Capítulo 4 | A primeira consulta de Clara
Passaram-se dois dias e Clara marcou uma consulta.
Compareceu desacompanhada, portando alguns exames de imagem e análises clínicas. Informou que sua ginecologista diagnosticara um cisto de ovário há cerca de um mês. Disse não ter informado os filhos, pois era uma doença benigna de encaminhamento simples que iria requerer um procedimento cirúrgico pouco invasivo. Informou que eles a tinham procurado revelando sua ansiedade, mas que ela já os havia tranquilizado e pedido que a deixassem resolver o problema sozinha.
Eram versões contraditórias.
Perguntei à Clara se ela desejava minha participação.
Clara referiu que os filhos tinham solicitado que ela me mostrasse os exames e que por isso marcara a consulta. Disse ter concordado para não conflitar com os filhos e entregou-me os exames.
Alcancei uma revista para Clara e pedi para deslocar-me, temporariamente, para uma outra sala, onde poderia avaliar melhor seus exames.
Clara concordou.
Abri a tomografia computadorizada abdominal total, dispondo ordenadamente os cortes de cima para baixo. Eram cortes transversais que vinham desde a parte superior do abdômen até a cavidade pélvica.
Havia uma grande massa heterogênea, ocupando quase toda a pelve. A impressão radiológica conferia com a versão passada pelos filhos de um tumor maligno.
Um marcador tumoral, chamado CA125, colhido no sangue, expressava um valor alto de 67 U/ml. Este marcador, embora não permitisse fazer um diagnóstico de certeza, era fortemente indicativo de carcinoma de ovário.
O radiologista também suspeitava de um pequeno volume de ascite, um líquido armazenado dentro da cavidade peritoneal, frequentemente encontrado na apresentação clínica do câncer de ovário e traduzindo um padrão de disseminação peritoneal da doença.
Liguei para a ginecologista de Clara.
Ela mencionou ter descrito, pormenorizadamente, todos os achados para a paciente e recomendado uma cirurgia oncológica radical, alertado sobre o comportamento maligno da lesão e para um prognóstico reservado. Fornecera o nome de um colega especializado neste tipo de intervenção.
Clara comprometera-se a procurá-lo.
Era nítido que Clara havia desenvolvido um forte componente de negação, que já persistia por mais de um mês e subestimava a importância da doença.
Eu teria que encontrar uma forma de fazê-la compreender a necessidade dos encaminhamentos, sem ferir seu mecanismo de defesa emocional.
Adicionalmente, minha interlocução estava restrita a dois filhos adultos, mas nitidamente imaturos.
Uma abordagem racional já havia sido tentada sem sucesso pela ginecologista.
Restava-me o resgate afetivo.
Seria um trabalho árduo, mas o único possível.
Voltei para a sala de consulta.
Clara não demonstrava muita curiosidade ou ansiedade, mas perguntou o que eu achara do cisto, novamente pressupondo o diagnóstico.
Respondi que iria necessitar de mais tempo. Gostaria de ouvir sua história e fazer seu exame físico. Justifiquei dizendo que seu atendimento havia começado de traz para diante e que nós precisávamos reordená-lo.
Clara concordou.
Mesmo negando a doença, ela era médica e sabia que esta seria a forma semiológica correta de encaminhar o diagnóstico e as orientações de tratamento. Fizera uma formação de excelente qualidade e era reconhecida por forte aderência aos princípios metodológicos.
Eu aproveitara este seu característico traço comportamental para iniciar a relação médico-paciente.
Clara apreciou a resposta e sentiu-se mais descontraída.
Ela teria a oportunidade de falar sobre sua situação atual, sem censura ou diagnóstico pré-estabelecido.
Iniciou dizendo que nunca ficara doente. Nunca tomara medicamentos. Nunca fizera qualquer cirurgia. Tinha uma saúde de ferro e sempre superara, sozinha, todos os problemas familiares e profissionais. Passara por uma separação litigiosa traumática, mas nunca falhara no cuidado para com os filhos. Atualmente, sua relação com o ex-marido era respeitosa. Entrara, precocemente, em menopausa aos 45 anos, tendo iniciado com irregularidades menstruais dois anos antes. Optara por não fazer reposição hormonal, pois não apresentava muitos sintomas e tinha consciência dos riscos associados. Nunca fumara, cuidava da dieta e fazia exercícios físicos. Era uma pessoa de rotinas e princípios rígidos. Revelou que superprotegera os filhos após a separação, mas que o fizera para amenizar a culpa. Buscara apoio psicológico por seis meses na ocasião, mas depois foi se recompondo sozinha. Há três meses iniciou com sensação de peso no baixo ventre e constipação intestinal. Atribuiu as queixas a uma mudança de dieta e passou a ingerir mais frutas e verduras. Percebeu uma melhora do quadro intestinal, mas persistia a sensação de peso que passou a ser acompanhada de dor pélvica intermitente e leve, predominando em posição sentada. Sentia-se com menos ânimo, mas mesmo assim intensificou sua atividade física, pois achava que estava ficando mais indolente, o que justificaria uma dor muscular. Passaram-se alguns meses e foi fazer sua revisão ginecológica rotineira, sendo constatado o cisto.
Ela era de uma clareza e objetividade professoral. Seu relato fora espontâneo e completo até onde seu emocional permitira.
Intencionalmente, optei por não fazer perguntas adicionais.
Solicitei a Clara permissão para examiná-la.
Expliquei que seria um exame físico completo e que minha enfermeira iria ajudá-la na preparação.
Clara concordou.
Não havia alterações na inspeção da pele, fâneros e mucosas. A palpação de todas as cadeias linfonodais não revelara linfonodomegalias. Sua pressão arterial era normal, bem como a ausculta cardíaca e respiratória. Havia um leve edema de membros inferiores, sem sinais de insuficiência vascular venosa. Seus pulsos arteriais eram normais e simétricos. A avaliação neurológica mostrava ausência de comprometimento dos pares cranianos, força e sensibilidade preservadas, associadas a reflexos normais. Não havia alterações na marcha ou qualquer outro sinal de deficiência no equilíbrio. O exame do fundo do olho não mostrava sinais de diabete, hipertensão ou aterosclerose. Seu abdômen estava levemente distendido, apresentando fígado e baço com forma e proporções normais. Ao exame pélvico percebia-se um volumoso tumor na topografia do ovário direito, que ocupava grande parte da pelve homolateral.
Na medida em que evoluía o exame físico, fui relatando para Clara, tanto os achados normais, como as alterações detectadas.
Quando falei sobre a massa pélvica, percebi que Clara não se surpreendera com o achado, comentando que isto provavelmente explicava a sensação de pressão no baixo ventre.
O comentário de Clara era impassível, dando a impressão que ela estava falando de outra pessoa, absolutamente compatível e coerente com sua atitude de negação. Também não revelava qualquer tipo de curiosidade adicional quanto ao diagnóstico ou conduta.
Retirei-me da sala de exame, solicitando que a enfermeira auxiliasse Clara a vestir-se.
Refleti por alguns minutos sobre a melhor abordagem e retornei para sala de exame.
Clara aguardava-me sentada, segurando sua bolsa e pronta para despedir-se.
Informei-lhe que precisávamos conversar.
Clara assentiu com a cabeça.
Expliquei que ela tinha uma doença localizada no abdômen e que este achado era consistente, pois aparecera tanto no exame físico como na tomografia. Disse que provavelmente o problema surgira no ovário direito, mas que seria necessária uma cirurgia para fazer o diagnostico definitivo e avaliar a extensão do problema.
Clara argumentou que não poderia ausentar-se por muito tempo de suas atividades, pois tinha obrigações profissionais e familiares pendentes.
Ela iria coordenar um congresso internacional em sua especialidade, estava preparando a formatura de Luiz e Ana teria uma amostra de seus trabalhos artísticos prevista para aquele mês.
Sugeriu adiar as decisões para um momento mais propício.
Eu podia conviver com o mecanismo de negação, desde que ele não colocasse Clara sob uma condição de risco. Havia o precedente de não aderência a recomendação de sua ginecologista. Suas atitudes indicavam que estava boicotando seu tratamento. Eu precisava encontrar uma forma de obter sua concordância no encaminhamento adequado do problema. Também não poderia assustá-la, pois sabia que comentários aversivos tinham desfechos desfavoráveis.
Parti para uma abordagem de resolução rápida.
Sugeri a Clara que realizássemos os procedimentos com a máxima agilidade. Isto permitiria que ela recuperasse logo sua saúde e talvez pudesse, em tempo, resgatar seus compromissos.
Clara concordou.
Naquele mesmo momento, fiz contato com um cirurgião oncologista genital de minha confiança e expliquei-lhe detalhadamente a questão, enfatizando o mecanismo de negação e a necessidade de intervenção imediata.
Meu colega entendeu o problema, solicitou que Clara o procurasse naquela mesma tarde para orientação pré-operatória e marcou a cirurgia para um período de 48 horas. Solicitou a presença de um patologista na sala de cirurgia para exame anatomopatológico transoperatório.
Havendo a confirmação de carcinoma, seu plano envolvia a retirada de ambos os ovários, as trompas e o útero. Toda a cavidade peritoneal seria revisada seguindo os critérios recomendados para o estadiamento cirúrgico do câncer de ovário, acompanhado da retirada do omento, uma gordura intraperitoneal, localizada no abdômen superior.
Expliquei o plano para Clara que se sentiu aliviada com o encaminhamento ágil da solução.
Todavia, alertei que era um procedimento cirúrgico de grandes proporções. Não poderia ser feito com laparoscopia, ou com a incisão cirúrgica transversal suprapúbica normalmente usada em cesariana. Teria que ser uma incisão ampla vertical, para que o cirurgião pudesse acessar todas as áreas anatômicas e retirar toda a doença. Não era um procedimento isento de risco, mas era indispensável.
Disse que iria acompanhá-la durante todo o período de hospitalização.
Clara levantou-se da cadeira, agradeceu o encaminhamento e foi ao encontro do cirurgião.
Antes de sair perguntou se eu poderia receber novamente seus filhos e explicar-lhes os encaminhamentos, pois confessou ter dificuldade em fazê-lo.
Respondi que minha secretária faria contato e agendaria a conversa com os filhos dentro das próximas 48 horas. Portanto, eu iria comunicar a eles todos os achados clínicos e encaminhamentos antes da cirurgia.
Capítulo 5 | Crescendo na adversidade
No dia seguinte, recebi os filhos de Clara.
Nada havia mudado em seus comportamentos. Continuavam conflitando mutuamente, estacionados em seus diferentes mecanismos de defesa.
A conversa com a mãe fora lacônica. Resumira-se na notificação do conhecimento sobre o exame tomográfico e na solicitação para que Clara entrasse em contato comigo.
Definitivamente, aquela família não se comunicava com clareza.
Descrevi a ambos os achados do exame físico de Clara, a impressão diagnóstica e o encaminhamento para a cirurgia. Expliquei que a cirurgia era necessária, pois permitiria o diagnóstico histológico, a avaliação da extensão da doença e a definição do melhor tratamento complementar. Seria uma cirurgia de grandes proporções, pois além de retirar os ovários, trompas, útero e omento, seriam necessárias várias biópsias peritoneais e avaliação da drenagem linfática do ovário.
As células do câncer de ovário tinham uma tendência a implantar-se no peritônio, em uma forma de disseminação chamada de celômica. Havia dados consistentes na literatura favorecendo o que se denominava de debulking ótimo, onde os implantes peritoneais da doença residual pós-operatória ficavam com menos de 0.5 cm, melhorando o prognóstico.
A despeito da expressão clínica sugestiva de uma doença avançada, Clara seria tratada com intenção curativa.
O rosto de ambos os filhos se iluminou. Tive a impressão de que ouviram apenas a última frase. Assumiram, imediatamente, a ideia de que a mãe seria curada e que eu assumira com eles este compromisso.
Eu já havia lidado com outras situações semelhantes e sabia que não adiantaria contrariá-los, explicando o significado da palavra intenção. Tinha consciência de que a abordagem racional naquela família não estava funcionando. Mesmo assim minha intuição não era sinônimo de verdade absoluta e eu iria continuar tentando, mas com cautela.
Avancei um pouco na informação dizendo que a chance de Clara ficar curada dependeria dos achados transoperatórios e da histologia do tumor, dados que somente teríamos após a realização da cirurgia.
Não houve muita mudança no cenário emocional e eu dei continuidade apenas com manejo afetivo. Pelo menos eles tinham feito um vínculo de confiança comigo e não contrariavam as recomendações.
Reforcei a qualificação do cirurgião e disse que iria acompanhar todo o procedimento bem como assumir os cuidados clínicos da mãe, durante sua hospitalização.
A cirurgia transcorreu sem intercorrências. Clara não tinha comorbidades e sua condição física era favorável.
Havia um grande tumor, com cerca de 15 cm de diâmetro, parcialmente sólido e móvel, originando-se no ovário direito. O omento não parecia comprometido por tumor e não havia implantes peritoneais. Os linfonodos pélvicos e para-aórticos apresentavam dimensões normais. Com exceção de um pequeno volume de ascite, o restante da inspeção transoperatória parecia normal.
O cirurgião retirou ambos os ovários, as trompas e o útero. Em sequência, retirou o omento. Adicionalmente e com cuidado para não promover dano vascular ou intestinal, foi progressivamente realizando todas as biópsias peritoneais abdominais e pélvicas. Colheu líquido de ascite, encaminhando para exame citopatológico. Fez uma dissecação da drenagem linfática do ovário e encaminhou todos os materiais para exame anatomopatológico.
Clara não parecia ter ficado com doença residual.
Recebi um e-mail do ex-marido de Clara. Ele morava em Paris e gentilmente colocara-se a disposição para o suporte que fosse necessário. Após relatar o sucesso da cirurgia de Clara, solicitei que aumentasse a vigilância sobre os filhos e que os amparasse no sofrimento emocional.
Clara enfrentou bem o pós-operatório.
Não fez perguntas, exceto sobre o tempo de permanência no hospital.
Tinha um comportamento estoico. Não referia dor e exigia mínimos cuidados rotineiros. Era aderente a todas as recomendações, na expectativa de atingir velocidade máxima em sua recuperação. Estava focada no resultado e não expressava seus sentimentos.
Teve alta hospitalar em uma semana.
Obtive o resultado do exame anatomopatológico.
Era um adenocarcinoma seroso do ovário de grau histológico intermediário, estádio IC pela Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO)16.
A dosagem pós-operatória do marcador tumoral sérico CA-125 caíra para 17 U/ml, como era esperado, revelando a provável ausência de doença residual.
Clara teria que submeter-se a quimioterapia, pois o exame citopatológico do liquido de ascite revelara a presença de células malignas.
Seria composta pela combinação de duas drogas, administradas a cada três semanas por um número de três ciclos.
Consistia em um tratamento tóxico, que além da perda do cabelo exigiria cuidados clínicos frequentes, relacionados a função renal, cardíaca, neurológica e imunológica.
Sua expectativa de sobrevida em 5 anos seria de 70%.
Eu já conhecia o perfil emocional daquela família e mantive-me aderente aos princípios do manejo afetivo, mesclando com um nível básico e indispensável de informação progressiva.
Durante o período de internação e também nas primeira duas semanas que se seguiram a alta de Clara, fui, cautelosamente, dosando a informação.
A aceitação da cirurgia fora conquistada pelo desejo inconsciente de Clara de ver-se, rapidamente, livre do problema. A quimioterapia seria uma intervenção mais prolongada. Eu teria que criar uma base de sustentação emocional mais duradoura.
Embora fosse uma tarefa árdua, a busca da integração familiar parecia ser uma boa estratégia.
Apesar de usarem diferentes mecanismos de defesa, estarem em momentos distintos de suas vidas e apresentarem dificuldades de comunicação, Clara e os dois filhos apoiavam-se, mutuamente.
Trabalhando com as individualidades fui aos poucos fazendo com que todos aceitassem a necessidade da quimioterapia.
Brotaram sentimentos de revolta, indignação, insegurança, culpa, barganha, negação, ansiedade e depressão.
Todavia, não havia desejo de morte.
Havia um pacto de vida na relação daquelas três pessoas e eu tinha que viabilizar um tratamento que contemplasse este objetivo.
Clara compareceu para consulta acompanhada dos filhos.
Propositadamente eu os recebi juntos, pois precisava avaliar as interfaces.
Ela estava bem e já havia retomado suas atividades profissionais. Embora mantivesse a negação como mecanismo de defesa predominante, portava uma atitude mais leve e descontraída. O sofrimento havia rompido, pelo menos em parte, as barreiras de comunicação entre ela e seus filhos. Clara descera do pedestal da invulnerabilidade. Expressava com mais transparência seus sentimentos. Permitia maior participação dos filhos em seus cuidados e sentia-se gratificada com suas demonstrações de interesse e apoio. Assumira sem culpa uma dimensão mais humana e espontânea na convivência com os filhos. Passara a tratá-los como adultos, começando a desfrutar do resultado de sua mudança comportamental.
Os filhos tinham passado por um ritual de iniciação19 ao sentirem-se agredidos pela inesperada doença materna. Responderam ao sofrimento com crescimento emocional. A atitude egoísta de desespero infantil inicial, transformara-se em uma postura mais equilibrada de compreensão sobre as necessidades da mãe e demonstração genuína de respeito e afeto.
Eles haviam migrado para uma fase madura de aceitação.
Iniciamos a quimioterapia.
Ana havia colhido uma amostra do cabelo da mãe e com a ajuda de uma fotografia recente, encomendara a confecção de uma peruca que reproduzia a cor e o estilo do cabelo original.
Clara manifestara seu contentamento para com a sensibilidade da filha. Clara não admitia expor sua situação em ambientes profissionais ou sociais. Ela era uma excelente médica e sabia que profissionalmente não poderia expressar fragilidades.
Luiz passara em uma prova de qualificação profissional para o exercício da advocacia e Clara estava orgulhosa com o desempenho alcançado pelo filho, apesar da condição adversa.
No exercício da medicina eu já havia aprendido que a competência técnica não era a única condicionante ao desenvolvimento de uma relação de confiança. Ela teria que ser conquistada pelo comprometimento e pela sensibilidade do profissional. As várias horas despendidas no atendimento daquela família conduziram à confiabilidade.
A partir deste momento, eu passara a ser responsável pela coordenação harmônica da situação de crise vivencial.
Clara submeteu-se a quimioterapia.
Ao término da quimioterapia, os exames de imagem não mostravam sinais de tumor residual e optei por iniciar um programa de acompanhamento com revisões clínicas trimestrais.
Passaram-se dois anos e Clara permaneceu em remissão clínica completa.
Manteve a negação como mecanismo de defesa, pois sempre chamou a doença simplesmente de cisto ovariano. Nunca perguntou sobre seu prognóstico, mas seguiu rigorosamente todas as recomendações. Apesar de ser uma médica reconhecida por sua racionalidade, optara por um tratamento de orientação puramente afetiva e eu respeitosamente acatara sua escolha.
A história de Clara ratificara minha impressão de que o paciente sempre sinalizava para o médico o estilo da abordagem a ser utilizada. Todos eles pareciam conhecer, intuitivamente, seu inconsciente e suas limitações.
O sucesso no encaminhamento sempre fora dependente de um ajuste fino entre as expectativas emocionais do paciente e a sensibilidade do médico.
Sumário da 6ª Simulação Clínica
Clara era uma médica reconhecida em sua especialidade, mas também por seu temperamento autoritário, dominante e rígido. Passara por uma separação matrimonial, mas mantivera a guarda dos filhos, que criados em uma redoma de superproteção, ficaram infantilizados. Não estavam preparados para a vida adulta e reagiram com a esperada imaturidade emocional frente a doença materna.
A reação de Clara foi coerente, demonstrando autoconhecimento. Há muito tempo, ela havia assumido uma posição de invulnerabilidade. Não podia aceitar a doença e muito menos suas consequentes limitações. Assumiu um comportamento de negação. Minimizou o problema e fazia comentários impassíveis, como se estivesse falando de uma terceira pessoa. Apesar de ter conhecimento técnico, o bloqueio emocional prevaleceu.
Qualquer tentativa de abordagem racional seria aversiva e poderia enfraquecer seu mecanismo de defesa, produzindo uma resposta desfavorável. O manejo tinha que ser compreensivo e de resolução instantânea. Clara somente concordaria com uma abordagem que a livrasse rapidamente do fator agressor e desestabilizador de sua condição familiar. Ela conhecia seus limites e sinalizava o caminho a ser seguido. Mergulhando temporariamente em sua visão simplista e respeitando a negação, o tratamento foi conquistado. Com o passar do tempo, todos amadureceram, reposicionando a dinâmica familiar.
Os mecanismos de defesa representam uma forma de expressão do autoconhecimento. O paciente faz a escolha, fundamentada em uma percepção subjetiva, mas profundamente apurada de seus limites emocionais. Esta é a principal razão pela qual os mecanismos de defesa não devem ser contrariados. Consistem em uma sinalização clara e objetiva de como o paciente deseja ser tratado. Apontam o caminho para o manejo assistencial bem-sucedido. O médico precisa conter a própria ansiedade e adaptar-se com flexibilidade. O ritmo é ditado pelo paciente. O tempo é indeterminado. É necessário ser neutro, com um encaminhamento preciso, mas ao mesmo tempo sensível, tolerante e complacente. As relações humanas não são lógicas ou previsíveis. Os princípios metodológicos que orientam a assistência médica têm que permear com precisão e eficiência através da instabilidade humana. A mensagem tem de ser decodificada pelo paciente, mesmo quando a linguagem é metafórica. O médico precisa certificar-se de que ocorreu consentimento informado, que transcende o cenário teatral e desvenda-se na relação de cumplicidade com o paciente.
* Todos os personagens são fictícios
** Referências bibliográficas que podem ser encontradas no livro Conexão Anticâncer – as múltiplas faces do inimigo interno de James Freitas Fleck

Faça o login para escrever seu comentário.
Se ainda não possui cadastro no Portal Conexão Anticâncer, registre-se agora.